Brasil
Artigo: “Pensamento Decolonial, um desafio para todos”

O poeta e político Aimé Césaire, um dos precursores do pensamento decolonial, aponta em seu livro “Discurso sobre o Colonialismo” o fato de que a chamada civilização europeia se sente incapaz de solucionar problemas aos quais ela mesma deu origem. Berço do “pensamento racional”, fomentadora dos tribunais da “consciência”, paga hoje pelas invasões apropriacionistas que orquestrou durante muitos anos da história.
Podemos admitir, como coloca Césaire, que sempre foi e continua sendo benéfico que os europeus tenham estado em contato com diferentes populações. Unir mundos díspares é excelente, pois uma civilização que não possui esse fluxo de oxigênio humano intercambiável reduz-se a si mesma e murcha. Podemos reconhecer que a sorte da Europa decorre de ter sido um lugar de acolhida de todos os tipos de línguas e matrizes de afetos diferenciados, receptáculo de todas as filosofias, lugar de redistribuição de energias humanas. Contudo, devemos reconhecer que tudo isso foi produto de uma longa jornada histórica colonizadora.
Césaire, dentre vários outros teóricos e pesquisadores decoloniais, abre o caminho e aponta para a necessidade de se dar voz aos povos colonizados, convidando-os a questionar toda a estrutura narrativa que construiu os saberes hegemônicos e universais ao longo da história.
O pensamento decolonial é um programa que abarca categorias explicativas e analíticas que nos afetam diretamente. Ao criticar o modelo colonial e moderno-colonial, atinge em cheio a cultura brasileira. Para nos introduzirmos nessas leituras decoloniais contemporâneas, temos que entender minimamente algo sobre a colonialidade e seus efeitos. A premissa básica, como porta de entrada para tais leituras, parte do pressuposto de que o fim do colonialismo como modelo político e econômico não significou o fim das soluções coloniais nem das práticas coloniais.
A partir do momento em que se tem uma estrutura de Estado organizada e pautada de uma certa maneira, com um grande grupo em posição de subordinação, onde um povo é dominado por outro, esse modelo comporta em si uma estrutura organizacional de espaços, de composições e formas que moldam como o imaginário de um povo é constituído e como a organização da linguagem tem uma implicação direta na forma de pensar desse povo. A partir daí, consequentemente, podemos reconhecer como funciona o engessamento de determinadas formas de domínio e de poder.
Temos inúmeras implicações que podemos citar para demonstrar que o fim das práticas coloniais de exercício de poder e domínio herdadas pela nossa história não terminou. O que precisamos é nos debruçar sobre elas para entendermos e nos implicarmos na questão, pois o que nos resta é refletir: de que forma estamos todos ainda contribuindo para que essa engrenagem esteja vigente na atualidade? A prática colonial se mantém especialmente na forma como elaboramos os próprios critérios estéticos e morais na nossa sociedade, na forma como se entende o que foi uma verdade do ponto de vista histórico e o que foi forjado sobre a nossa verdade histórica pelos próprios europeus colonizadores. Esse conjunto organizacional construirá a forma de relação que temos com o Outro, que, por consequência, determinará a imagem que um povo cria sobre si. Isso interfere na constituição de cada um dos sujeitos nascidos naquela determinada nação.
A decolonialidade trata-se de um grupo de estudos científicos que tem cada vez mais atravessado a área das humanas de forma interdisciplinar. As leituras propostas por vários autores, tais como Aimé Césaire, Frantz Fanon, Lélia Gonzalez, Cida Bento, Bonilla-Silva, Silvio Almeida, Rita Segato, Isildinha Baptista, Achille Mbembe, dentre vários outros, formam o conjunto de ideias com as quais gostaria de convidar vocês, leitores deste artigo, a se permitirem ser atravessados por esse pensamento. A partir do momento em que vamos sendo introduzidos e perpassados por essas leituras, torna-se possível um corte crítico no olhar estruturante que contribuiu para formatar nossa autoimagem enquanto brasileiros. Esse corte possibilita uma série de autocríticas singulares e sociais e nos empurra para dentro da dialética constitutiva da chamada “neurose cultural brasileira”, tão bem teorizada por Lélia Gonzalez.
A importância dessa produção teórica nos últimos tempos tem atingido, multidisciplinar e multiculturalmente, toda a produção teórica acadêmica. Contribui para desvelar muitas das verdades concebidas e, de certa forma, impostas pelo modelo europeu imperialista dominador e silenciador das possíveis construções narrativas originais de cada um dos povos dominados, trazendo-as para um outro olhar de reconhecimento.
O desafio proposto na empreitada decolonial nos desloca da matriz do pensamento hegemônico no qual fomos forjados como sociedade e nos lança no comprometimento singular, envolvendo cada um de nós nas implicações advindas do fato de pertencermos a um país que se estruturou a partir de um modelo racializado.
Sendo assim, a relação que temos com o outro pauta a relação que temos conosco mesmos. A importância desse giro proposto pela teoria decolonial está na potência transformadora, provocando mudanças em muitas esferas relacionais, não só do ponto de vista singular, mas também nas maneiras como um país lida com a valorização interna de suas produções culturais, intercâmbios, comerciais, dentre outras.
Enfim, com o olhar e a escuta do seu próprio povo descolados da alienação interpretativa advinda dos europeus, formadores dos saberes universais, podemos resgatar uma importante retomada de versões sobre nós mesmos a partir daqueles que realmente estavam aqui, habitando nossas terras até o momento em que “fomos descobertos” (entre muitas aspas aqui). É interessante, inclusive, pensar sobre essa palavra. Falamos de Brasil como se nossa origem estivesse pautada pelo “descobrimento” pelo olhar desse Outro que nos impingiu uma verdade sobre nós, escravizando não só os povos indígenas que aqui estavam, mas também os africanos, eliminando uma infinitude de registros históricos e simbólicos sobre esses povos, eclipsando as múltiplas verdades e versões sobre nós mesmos nesse processo.
Sendo assim, o pensamento decolonial ultrapassa sua própria teoria, através de sua força potencializadora em provocar um giro no espelho de cada nação, tanto das que foram colonizadas quanto das que colonizaram. Ele parte da questão que interroga a nossa própria origem: “Como aquilo que me criou me forma?” Por exemplo: “Como a vida que está à minha volta, especialmente em termos de linguagem, me constitui?”
A ideia de que temos raízes e que, se pararmos para pensar na forma como elas se estruturaram, inevitavelmente nos depararemos com uma leitura formatada pela linguagem e pelos olhos daquele que diz ter “descoberto” o nosso país.
Um olhar estrangeiro que, para além de chegar e dizer que descobriu terras que na verdade já eram habitadas por muitos que aqui estavam, ou seja, já haviam sido “descobertas” por muitos, acabou sendo o olhar europeizado, advindo dos portugueses, que criou, através desse olhar vindo de fora, aquilo que nos disseram que somos.
A imensa importância de nos aprofundarmos nesse passeio decolonial com uma caravela conceitual construída de dentro para fora, e não o inverso, que parte do resgate de memórias de todos aqueles e de tudo aquilo que de fato foi silenciado e apropriado pela força dominadora das invasões territoriais europeias, é um desafio pungente em todas as áreas das ciências humanas de maneira transversal.
A nossa alienação, equivocadamente identificada com os europeus, provocou efeitos deletérios nos povos indígenas e negros, que de fato são as culturas majoritárias às quais deveríamos nos curvar e reconhecer todo o universo simbólico cultural primoroso que foi menosprezado, silenciado e, com isso, apagado e, no caso da cultura afro em nosso país, aniquilado.
Não podemos negar que o movimento de poder, desde a época do nosso “descobrimento” (entre muitas aspas), opera com um padrão de diminuir determinados saberes, de minimizar determinadas histórias, de fazer com que olhemos para determinadas coisas e não para outras, por exemplo. Isso faz parte dessa máquina colonial reprodutora de identificações com o Senhor, aquele branco ocidental que diz ter nos descoberto para o grande mundo, como se não fosse possível existirmos sem a tutoria europeia. Hegel sabe bem o quanto essa dialética de senhor e escravo funda esse moinho, não é?
A partir dessas reflexões, podemos pensar que lugar o corpo negro e toda a sua cultura e simbolismo ocuparam no nosso país, pois ele serve como transporte temporal de uma linhagem referida ao domínio dos homens brancos, tomada por um utilitarismo de uma engrenagem político-ideológica. Em diferentes momentos históricos, mas com a mesma intenção, seja esta consciente ou não, essa máquina reprodutora de sentido não se produz sozinha.
Se pensarmos na língua como sendo o elemento constituinte de um povo e de uma nação, deveríamos falar Nheengatu, a língua do coração da Amazônia, ou seja, a língua tupi falada por tribos como Tamoios, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, dentre outras. Essas línguas foram impedidas de serem reconhecidas como as nossas línguas originárias, afinal, o português, que esbraveja o nosso “descobrimento”, não teve a humildade de respeitá-las como a língua já existente, afinal, estavam eles “nos descobrindo”, não é, pessoal? A decisão do Marquês de Pombal, em 1758, proibiu o uso e o ensino do Nheengatu, do tupi e de outras línguas indígenas nas escolas brasileiras, instaurando o português como a língua a ser falada a partir dali.
Lélia Gonzalez, nossa autora brasileira maravilhosa, reconhecida no universo de produção científica decolonial no mundo todo, dirá que a língua que falamos é o “pretuguês”, afinal, o Brasil é constituído em sua maioria por pretos e pardos, e o nosso português não é de fato igual ao de Portugal.
Portanto, pessoal, vou ficando por aqui e deixo essa pulga para picar nossos ouvidos quando escutarmos no noticiário, como foi o caso de um mês atrás, sobre os nove corpos de africanos vindos da Mauritânia e Mali que estavam à deriva no mar do Pará. Deixo a pulga para que no dia seguinte já não tenhamos esquecido dessa barbárie diária. Deixo a interrogação sobre a urgência de pensarmos no modelo decolonial de entender o mundo, para que os impactos de uma notícia como esta não parem de nos afetar e clamar com urgência por um outro pensamento que não parta de uma hegemonia de valores importados. Será só assim, reconhecendo as riquezas de cada povo sem o olhar do Marquês usurpador e apropriacionista colonial de domínio e poder, que poderemos evitar que alguns povos continuem nas caravelas à deriva nos oceanos, entregando-se à máquina de triturar gente da engrenagem do neoliberalismo.
*Silvia Badra é Psicanalista com algum tempo de percurso, já atuou nas áreas de Educação e Dependência Química. Hoje, atende clinicamente na escuta de mulheres em situação de vulnerabilidade social, experiência que a levou ao mestrado na UnB, onde articula filosofia e teoria psicanalítica. Se define como uma adoradora das artes, pois essa é mais uma das áreas de ressignificação das diferentes formas de se ver o mundo. Olhar que também atribui à sua marca, onde trabalha como designer e redefinições de joias antigas
The post Artigo: “Pensamento Decolonial, um desafio para todos” first appeared on GPS Brasília – Portal de Notícias do DF .
Fonte: Nacional
Comentários
Brasil
Sapato de 675 anos é encontrado em ninho de abutre-barbudo

Fonte: conexaoplaneta.com.br
Com impressionantes quase 3 metros de envergadura das asas e com peso que pode passar dos 12 kg, o abutre-barbudo (Gypaetus barbatus) é uma ave observada em montanhas da Europa, Ásia e África. Também chamado de quebra-ossos, esse seu outro nome popular se origina de sua dieta: ele se alimenta quase exclusivamente de ossos, que engole inteiros ou em pedaços, quando os atira ao solo em voo, sobretudo para obter uma importante fonte de proteína, a medula óssea de outros animais.
Assim como outras espécies de aves, o abutre-barbudo também faz seu ninho com resíduos encontrados no meio ambiente, sejam eles naturais, como galhos, troncos e folhas, ou ainda, aqueles descartados pelos seres humanos. A diferença, no caso desses abutres, assim como gaviões e falcões, por exemplo, é que os ninhos são usados por diferentes indivíduos durante séculos, caso continuem sendo um refúgio seguro. Outra característica é que esses ninhos geralmente são construídos em abrigos rochosos ou cavernas de penhascos, locais com abrigo para as intempéries climáticas.
Mas a Gypaetus barbatus é atualmente a espécie de abutre a mais ameaçada da Europa, com apenas 309 casais reprodutores, 144 dos quais nos Pirineus, uma cordilheira de montanhas na fronteira entre a França e a Espanha. Por isso, durante quase uma década, entre 2008 e 2014, pesquisadores espanhóis se propuseram a estudar os locais onde essas aves costumavam nidificar até serem extintas entre 70 e 130 anos atrás no sul do país.
Durante a pesquisa, eles analisaram dezenas de ninhos e fizeram descobertas surpreendentes! Entre cascas de ovos, ossos de presas, foram identificados 226 itens feitos ou alterados por seres humanos, como um estilingue fabricado com capim, uma lança de madeira e muitos objetos que exames posteriores revelaram ter mais de seis séculos de existência, como um sapato… com estimados 675 anos!
Para determinar a idade do calçado e dos demais artefatos, os pesquisadores utilizaram processos empregados por arqueologistas e análises de carbono-14.

Na letra C, o sapato de 675 anos descoberto no ninho de um abutre-barbudo na Espanha
Fotos: Margalida, Antoni et al., Ecology (2025)
“Graças à solidez das estruturas dos ninhos do abutre-barbudo e suas localizações no Mediterrâneo ocidental, geralmente em locais protegidos, como cavernas e abrigos rochosos com condições de temperatura relativamente estáveis e baixa umidade, eles têm atuado como museus naturais,conservando material histórico em boas condições“, escrevem os autores do estudo, publicado recentemente na revista Ecology, da Ecological Society of America.
Para os pesquisadores, que também identificaram 2.117 ossos, 72 restos de couro, 11 de cabelo e 43 cascas de ovos, os achados não ajudam somente no entendimento histórico daquela região e da relação entre aves e seres humanos, mas também pode abrir um novo caminho para o melhor entendimento do comportamento dos abutres-barbudos e possíveis esforços de restauração de seus antigos habitats e possível reintrodução da espécie.

Um dos ninhos analisados pelos pesquisadores: bem protegidos,
eles são verdadeiros museus naturais da humanidade
Foto: Sergio Couto, Ecology (2025)
Foto de abertura: Antoni Margalida, Ecology (2025).
Comentários
Brasil
Esposa de Mazinho, Meire Serafim destina mais de R$ 20 milhões em Emendas a ONG da Bahia
O investimento total é de R$ 2,2 milhões, com a proposta de promover autonomia econômica e geração de renda para chefes de família, especialmente mulheres negras, indígenas e ribeirinhas

Os documentos mostram que a parlamentar destinou os recursos de forma concentrada para a ONG baiana, que será responsável pela aplicação integral dos valores no estado. Foto: captada
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou R$ 20,07 milhões em emendas parlamentares para a implementação de projetos em áreas estratégicas como saúde, esporte e inclusão produtiva no Acre. O detalhe que chama atenção é que, embora os recursos tenham como destino municípios acreanos, a execução ficará sob responsabilidade da APAS, Associação de Proteção e Amparo à Saúde, entidade privada sem fins lucrativos com sede em Salvador (BA).
A informação consta em três extratos de propostas registrados no sistema Transferegov, todos aprovados em setembro de 2025 pelos ministérios da Saúde, do Esporte e das Mulheres. Os documentos mostram que a parlamentar destinou os recursos de forma concentrada para a ONG baiana, que será responsável pela aplicação integral dos valores no estado.
As emendas da deputada contemplam três iniciativas, com execução prevista para até 2026: Saúde pública, combate à malária no Vale do Juruá, O maior repasse, de R$ 8,93 milhões, será aplicado em ações de vigilância epidemiológica e combate à malária na região do Juruá, responsável por mais de 90% dos casos da doença no Acre. O plano prevê a instalação de uma base operacional em Cruzeiro do Sul, capacitação de 396 agentes de saúde, uso de laboratórios móveis e distribuição de kits pedagógicos em escolas da rede pública.
O segundo projeto trata do Esporte – inclusão de jovens em cinco municípios, batizado de “Esporte Total”, aprovado pelo Ministério do Esporte com investimento de R$ 8,91 milhões. A meta é atender 4 mil jovens de 12 a 24 anos em modalidades como futebol, muay thai e jiu-jitsu, com impacto indireto estimado em 10 mil pessoas. O plano de aplicação prevê desde a compra de uniformes, tatames e kimonos até a locação de ônibus para transporte de alunos da zona rural.

Outro ponto que chama atenção é a concentração dos repasses. Juntas, as três propostas somam mais de R$ 20 milhões, sem contrapartida financeira da entidade executora. Foto: captada
A terceira proposta trata da inclusão produtiva de mulheres em Sena Madureira, chamado “Mãos que Transformam”, que será executado em Sena Madureira com o objetivo de capacitar 480 mulheres em situação de vulnerabilidade em cursos de beleza. O investimento total é de R$ 2,2 milhões, com a proposta de promover autonomia econômica e geração de renda para chefes de família, especialmente mulheres negras, indígenas e ribeirinhas.
Em todos os extratos, a APAS (Associação de Proteção e Amparo à Saúde) aparece como proponente e executora. Registrada em Salvador, a entidade não possui sede no Acre, mas ficará responsável por gerir os convênios, contratar equipes, adquirir materiais e garantir a execução das ações.
Outro ponto que chama atenção é a concentração dos repasses. Juntas, as três propostas somam mais de R$ 20 milhões, sem contrapartida financeira da entidade executora. Os valores serão inteiramente custeados pela União, via emendas parlamentares de Meire Serafim.

A vigência dos convênios varia entre três meses e mais de um ano, com previsão de término até 2026.
Comentários
Brasil
Acre registra 22 mortes por Covid-19 em 2025 e acumula 77 óbitos desde 2023, aponta boletim da Sesacre
Acrelândia lidera incidência e Bujari tem maior taxa de letalidade; vacinação infantil segue baixa, com menos de 4% das crianças com dose de reforço

Na análise por cor/raça, em 2025, 68,4% dos casos confirmados foram em pessoas pardas, seguidas de amarelas (13,1%) e brancas (11,3%). Foto: captada
A Covid-19 segue como uma preocupação de saúde pública no Acre, com 4.016 casos confirmados e 22 mortes registradas até 27 de setembro de 2025. Os dados, divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nesta quarta-feira (1º), mostram que desde 2023 o estado acumula 16.900 casos e 77 óbitos pela doença.
O município de Acrelândia apresenta a maior incidência de casos em 2025: 1.304 por 100 mil habitantes – quase três vezes a média estadual (449/100 mil). Já Bujari registra a maior taxa de letalidade (7%) e o maior coeficiente de mortalidade (28,8/100 mil). Rio Branco concentra o maior número absoluto de mortes (42 desde 2023).
O perfil das vítimas mostra que 67,5% tinham mais de 60 anos e 64,9% possuíam comorbidades como cardiopatias e diabetes. Entre os casos confirmados em 2025, 68,4% eram pessoas pardas.
A adesão vacinal em crianças preocupa: apenas 3,56% entre 6 meses e 4 anos receberam o reforço. Desde o início da pandemia, o Acre totaliza 175.384 casos confirmados entre 437.954 notificações.
Municípios com cenários mais críticos
- Bujari: Maior taxa de letalidade (7%) e mortalidade (28,8/100 mil hab.)
- Acrelândia: Maior incidência (1.304 casos/100 mil hab. em 2025)
- Rio Branco: Maior número absoluto de mortes (42 desde 2023)
Perfil das vítimas
- Faixa etária: 67,5% dos óbitos em maiores de 60 anos
- Comorbidades: 64,9% tinham cardiopatias, diabetes ou hipertensão
- Raça/cor: 68,4% dos casos em pessoas pardas
Vacinação infantil preocupa
Crianças (6 meses a 4 anos):
26,54% com primeira dose
12,89% com segunda dose
3,56% com reforço
Os números revelam a permanência da Covid-19 como problema de saúde pública no Acre, com bolsões de alta transmissão e baixa adesão vacinal em grupos específicos, exigindo manutenção de políticas de vigilância epidemiológica mesmo após o fim da emergência sanitária global.



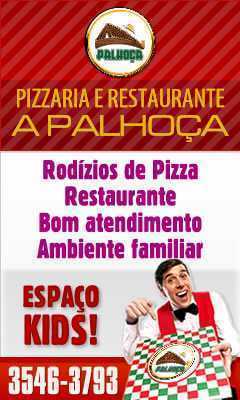
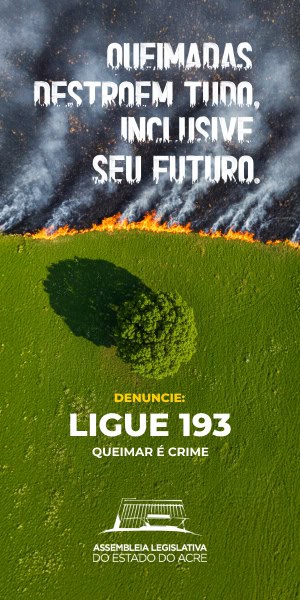


Você precisa fazer login para comentar.